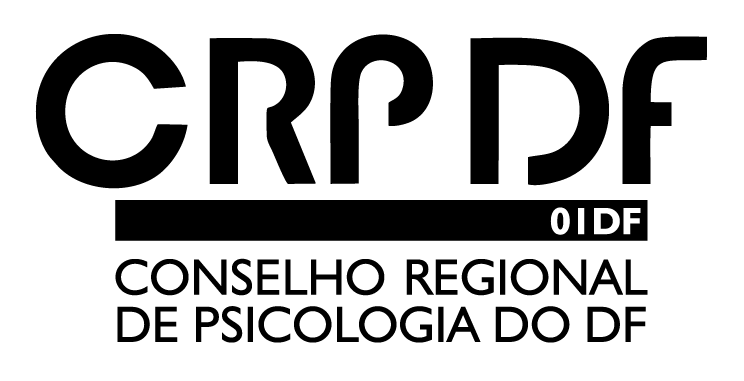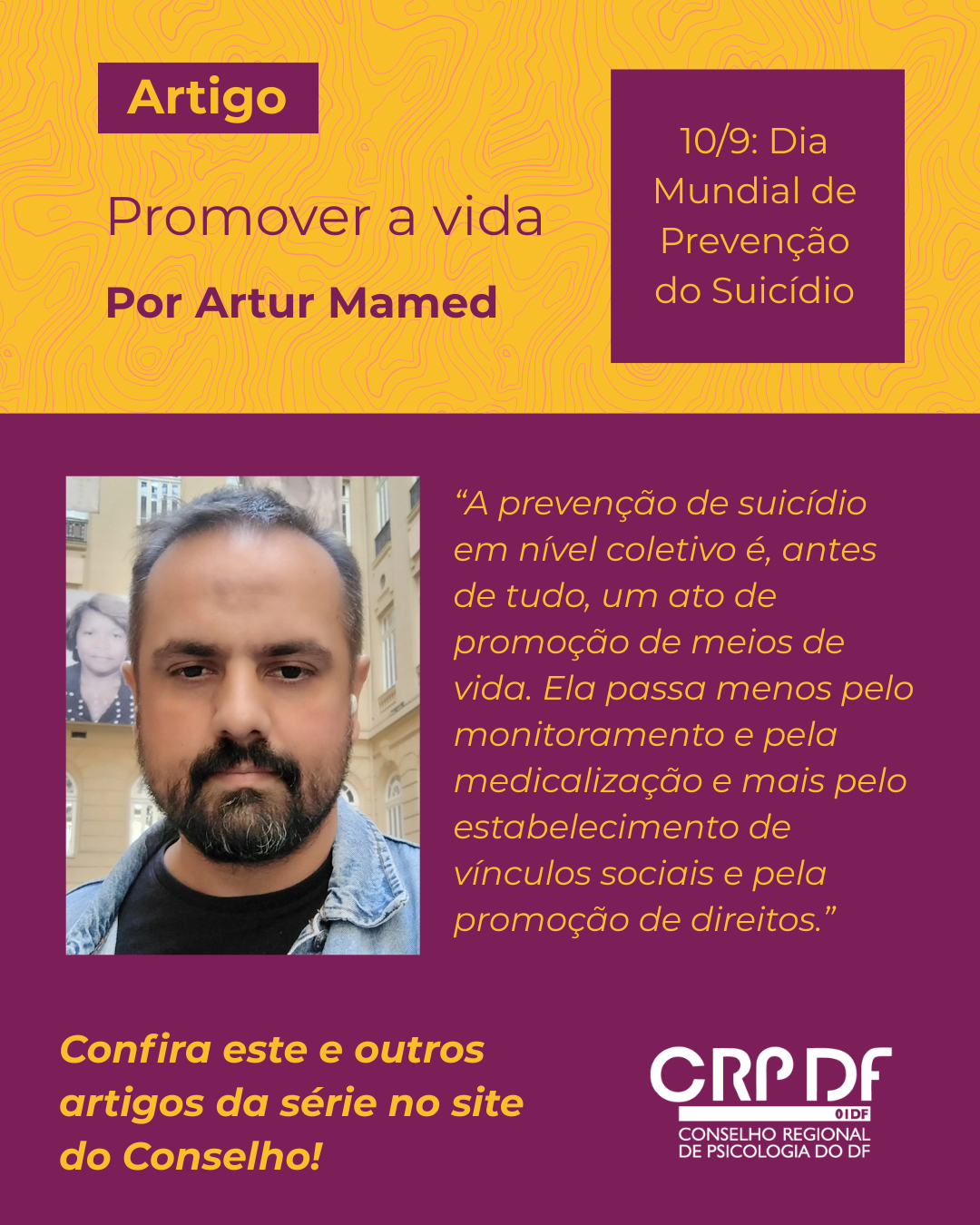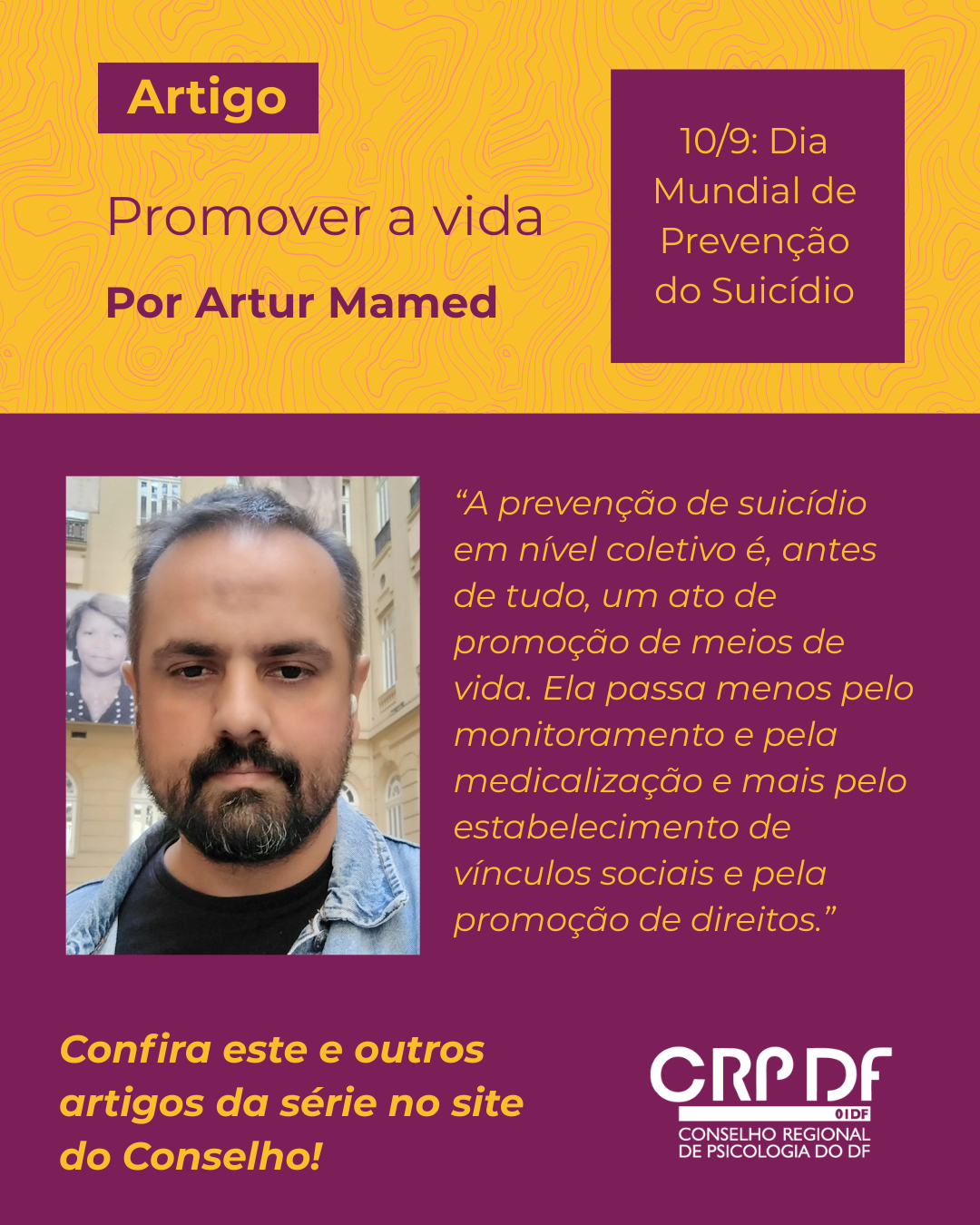
Em alusão ao Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, celebrado em 10 de setembro, o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP 01/DF) convidou autores do guia “Orientações para a atuação profissional frente a situações de suicídio e automutilação", publicado pelo Conselho em 2020 (disponível aqui), para compartilharem reflexões sobre o tema a partir de seus locais de atuação profissional, vivências e linhas de pesquisa atuais.
Hoje compartilhamos o artigo "Promover a vida"* do psicólogo Artur Mamed (CRP 01/11869), que é mestre em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB) e doutor em Bioética pela Cátedra UNESCO de Bioética da mesma instituição, com trajetória marcada por atuação em políticas públicas e saúde mental, na Rede de Atenção Psicossocial e em gestão educacional inclusiva. Artur Mamed é autor do livro "Apontamentos para uma Clínica Compreensiva da Perda: um estudo sobre o luto decorrente do suicídio" e, neste artigo, aborda a complexidade da relação humana com sua noção de existência, refletindo sobre como o estabelecimento de vínculos sociais e a promoção de direitos podem ser estratégias mais efetivas para a prevenção do suicídio.
Confira:
"Que a vida vale a pena ser vivida é a mais necessária das suposições e, se ela não fosse assumida, seria a mais impossível das conclusões." A citação de George Santayana nos faz refletir sobre a complexidade da nossa relação com a existência. O valor que atribuímos à vida não é um princípio moral absoluto e universal, mas, uma construção subjetiva, ambivalente e impermanente. Quando somos chamados a responder se a vida vale realmente a pena, nossa resposta costuma ser profundamente pessoal e tecida por experiências afetivas e biográficas únicas.
Desde crianças, somos ensinados a ver a vida como um dom sagrado, um valor supremo. Contudo, isso não é o suficiente para nos municiar de meios para impô-la a ninguém como obrigação de viver, menos ainda se, para esse fim, suspendemos direitos.
A autonomia dos sujeitos dotados de capacidade jurídica sobre a gestão da própria vida e corpo não é uma concessão dada por terceiros, mas um dado da própria existência, um fato de sua condição humana. Embora tenhamos o dever de proteger a vida a qualquer custo e o sistema de intervenção seja necessário, no final das contas, viver é um direito, não um dever.
Por isso, como profissionais do cuidado, para lidarmos eticamente com o comportamento suicida, o desafio é que muitas vezes precisamos abandonar a pretensão de controle total sobre os corpos— que é, de fato, impossível — e assumir que o melhor papel que podemos desempenhar é o de estabelecer uma vinculação capaz de auxiliar as pessoas a construir uma nova relação com a vida — a desejá-la ou, ao menos, a suportá-la.
Em sua essência, o suicídio é um ato de desespero, um recurso extremo para silenciar uma dor psicológica que se tornou insuportável. Mas, isso não significa que o suicídio seja um fenômeno simples ou previsível. Ele pode ser previsto apenas de uma maneira muito probabilística e sua complexidade reflete a própria complexidade inerente do sofrimento humano. Reduzi-lo a um efeito dos transtornos mentais é tão simplista quanto negar o papel que os transtornos mentais desempenham. Nomear o sofrimento humano com categorias psiquiátricas não apaga sua natureza multifatorial e complexa, nem os atravessamentos sociais que os moldam.
Assim, se quisermos construir políticas abrangentes de prevenção, precisamos “escutar o sofrimento” — entender e combater as formas complexas pelas quais o sofrimento social intolerável é produzido.
O filósofo Mark Fisher lembra que a cultura dominante busca negar as causas sociais do sofrimento, reduzindo-o a uma patologia individual de ordem neuroquímica. É um paradigma que prioriza a adaptação e o controle, não o cuidado. O saber-poder médico reforça a despolitização do sofrimento ao descrevê-lo nos termos de uma patologia, isolando-o de seus determinantes sociais e neutralizando seu caráter sociopolítico.
Essa redução ignora deliberadamente os meios pelos quais os sistemas sociais empurram milhares de pessoas ao desespero, submetendo-as a condições extenuantes e degradantes de vida. Ignora que, como disse Artaud, todos os dias, muitos são “suicidados pela sociedade”.
O núcleo ideológico do nosso sistema de reprodução social repete o mantra de que a vida só tem valor quando é produtiva, que sem trabalho um homem não é nada. Nesse sistema, não é preciso muito para levar uma pessoa ao desespero: basta convencê-la de que ninguém precisa dela, de que ninguém se importa ou dá valor àquilo que ela é ou faz.
Compreendemos assim, porque é importante identificar e combater as dinâmicas sociais que produzem e agravam o sofrimento grave na população. Esse não é um trabalho apenas de psicólogos e psiquiatras, mas uma tarefa coletiva, da sociedade como um todo.
Uma epidemiologia crítica irá revelar que períodos de crise econômica, austeridade, desemprego, migrações forçadas, conflitos sociais, ao aumentarem a desesperança geral, elevam o “adoecimento” nas populações e, com ele, as taxas de suicídio. Assim, irá evidenciar determinações sociais do sofrimento que preferimos ignorar — a distribuição desigual do sofrimento que faz com que os números do suicídio sejam coextensivos à geografia de tantas iniquidades e opressões interseccionais.
Mesmo quando consideramos a subnotificação programática do nosso sistema de saúde, sabemos que, no Brasil, os números do suicídio se concentram entre grupos historicamente marginalizados e invisibilizados. Entre indígenas, a taxa é de três a sete vezes maior que a média nacional. Na população carcerária e institucionalizada, é quatro vezes maior. Entre jovens negros, é 45% maior que entre os brancos. Entre idosos, varia de 40% a 60%, acima da média nacional. Nas comunidades LGBTQIA+, os números são seis vezes maiores, especialmente em contextos à elas hostis**.
É fato que encontramos o suicídio nos códigos do CID e do DSM, mas ele também se deixa perceber na cor, na classe, na etnia, na identidade de gênero, na situação trabalhista e na orientação sexual dos sujeitos. Abordá-lo como um simples efeito dos transtornos mentais é ignorar que quem se mata costuma ser, também, oprimido por um sistema que nega o reconhecimento de sua humanidade; é ignorar que o suicídio não é um fenômeno aleatório, mas algo que se manifesta mais frequentemente entre corpos e vidas que a sociedade costuma tratar como descartáveis
As políticas de prevenção devem ser construídas tendo como base uma leitura crítica das formas coletivas de produção do sofrimento. Partindo dessa leitura, devem desenvolver ações estratégicas para reduzir os agravos mais comuns entre populações vulnerabilizadas.
Prevenir o suicídio, em nível coletivo, é promover saúde mental. Isso se faz, necessariamente, pela promoção de direitos — algo que a própria OMS afirma.
Sem um compromisso real com a construção de vínculos solidários e com a garantia de direitos sociais básicos, as ações de prevenção se tornam inócuas, propagandísticas: apenas revelam os interesses de reserva de mercado e a influência de setores hegemônicos da indústria da saúde mental.
Garantir dignidade e esperança é a melhor forma de prevenção: construir relações capazes de dizer às pessoas que suas vidas têm valor para sua comunidade. Isso implica, por exemplo, combater práticas e narrativas que dizem a jovens racializados, pobres, precarizados e não heteronormativos que suas vidas são menos importantes. Implica combater formas de objetificação necropolítica que reduzem vidas e corpos humanos a dispositivos dispensáveis da produção.
Prevenir é combater os efeitos de uma racionalidade que reduz a fruição alegre da vida ao cumprimento de um dever moral com o mesmo sistema que à desumaniza.
Até que ponto estamos dispostos a envidar esforços e recursos em prevenir o suicídio daqueles que consideramos improdutivos ou indesejáveis? Estamos mesmo empenhados em prevenir a morte dos que já não se inserem no mercado, nem mesmo como mão de obra barata?
A retórica da vida enquanto valor supremo e universal se esvazia diante da indiferença com que tratamos certos corpos.
A nível coletivo, prevenir é promover a vida: ajudar as pessoas a reconstruir projetos, apoiá-las a sonhar e a acreditar que a vida que elas sonham é viável e que suas comunidades as apoiam e as percebem como humanos. É fazer as pessoas sentirem, dia após dia, que a vida que elas levam “vale a pena”: apesar de todo fardo que elas carregam para vivê-la.
>>> Caso se encontre em um momento de intenso sofrimento psíquico, é recomendado que não se isole em suas dores. Busque compartilhar o que está passando com profissionais que estejam capacitados para auxiliá-la(o).
>>> Um dos locais de escuta disponíveis gratuitamente em todo o Brasil é o Centro de Valorização da Vida (CVV). O atendimento do CVV é realizado pelo telefone 188 (24 horas por dia e sem custo de ligação), chat, e-mail e pessoalmente em alguns endereços. Saiba mais em: https://cvv.org.br/
Consulte referências:
* Texto baseado no conteúdo do livro publicado pelo autor em 2022: “Apontamentos para uma Clínica Compreensiva da Perda.”
** Referências citadas no capítulo “Por uma Epidemiologia Crítica do Suicídio” do referido livro.
#DescreviParaVocê: card colorido, predominantemente nas cores lilás e amarelo, destaca o dia 10 de setembro como data em que se chama a atenção para a prevenção do suicídio. Na Imagem, é destacado um trecho do artigo e a foto do autor, além de constar a marca gráfica do CRP 01/DF.